Quando ‘American Horror Story’ estreou oficialmente em 2011, a antologia encabeçada por Ryan Murphy e Brad Falchuk dava início a uma nova era de terror na televisão mainstream – apostando fichas em uma vertente do gênero em questão que se apoiasse no gore, no drama e no sexo ao mesmo tempo. Mais de uma década mais tarde, a antologia continua como uma das mais importantes do século por quebrar barreiras, mas é inegável que sua qualidade vem decaindo há algum tempo. No ano passado, por exemplo, tivemos um breve surto de criatividade que arrancou alguns dos melhores episódios da produção, apenas para ser varrido para debaixo do tapete com um finale assombroso de tão ruim.
Agora, entrando no décimo primeiro ciclo, Murphy, Falchuk e sua equipe de roteiristas e diretores tinham a oportunidade de resgatar o sentimento arrepiante e envolvente das iterações anteriores. Afinal, ‘New York City’, como ficou intitulado, já premedita uma gama gigantesca de explorações narrativas e artísticas – e, considerando que seríamos transportados para os anos 1970 e 1980, as críticas sociais acerca de sexualidade e HIV/AIDS poderiam servir de base para um imponente enredo. Com a estreia dos dois primeiros episódios, uma coisa é clara: os showrunners nunca estiveram tão desconfortáveis em criar alguma coisa quanto aqui.

A história parte de uma premissa simples e, em teoria, bastante funcional. A cena de abertura do episódio piloto emula diversos filmes slasher, como ‘Pânico’, ‘Sexta-Feira 13’ e ‘A Hora do Pesadelo’, em que uma vítima é escolhida para dar início a uma jornada movida a sangue e a vingança. Pouco depois que um corpo aparece nas docas de Manhattan, o detetive Patrick Read (Russell Tovey) começa a se envolver com o caso a despeito de seus colegas diminuírem os assassinatos por serem voltadas à comunidade gay. Em paralelo, a Dra. Hannah Wells (Billie Lourd) descobre um novo vírus se espalhando em uma ilha perto de Nova York e que leva todos os animais portadores a serem exterminados, a fim de que o vírus não se espalhe e não contamine os humanos.
Ambas as incursões são presentes no primeiro capítulo – mas de forma desequilibrada, bagunçada e cansativa. A trama que mais nos chama a atenção é de Patrick, ainda mais considerando que ele não revelou ser homossexual para não perder o emprego e sofrer preconceito por parte dos colegas de profissão (afinal, a década de 1980 foi marcada por uma grande ofensa contra a comunidade LGBTQIA+). E esses problemas de não-aceitação são levados para sua própria casa, onde divide a vida com o jornalista Gino Barelli (Joe Mantello), editor-chefe de um jornal voltado para os membros queer e que se torna alvo de um homicida incontrolável.

Com exceção de um elenco formidável e de uma imagética esplendorosa, que leva a Nova York para um delicioso anacronismo neo-noir e constrói uma atmosfera noturna de tirar o fôlego, as engrenagens não se encaixam com a fluidez necessária. Murphy e Falchuk, responsáveis pelo roteiro, parecem não dialogar com o diretor John J. Gray – delineando falas óbvias demais para serem levadas a sério e promovendo um culto ao nada; em uma hora de episódio, os eventos se confinam a uma reflexão batida e convencional demais sobre homofobia e disparidade de gênero, elaborados com muito mais paixão na conterrânea ‘Pose’. Até mesmo os personagens se assemelham uns aos outros em determinadas instâncias, incapazes de falar por conta própria.
O segundo capítulo, por sua vez, traz uma leve melhora – mas não significativa o suficiente para ofuscar os deslizes já vistos. Aqui, temos o soberbo conflito de personalidade entre Theo (Isaac Powell), um inspirado fotógrafo cujo principal interesse é o grotesco, e Sam (Zachary Quinto), empresário de Theo que esconde fetiches absurdos e que colocam em risco todos à sua volta. De modo quase sartreano, o sobrenatural (que emerge com a presença agourenta de um espírito vestido com roupas de coro) é deixado de lado em prol de anunciar que “o inferno são os outros” – e que viver em sociedade é um convite à loucura e ao abandono da sensatez; uma escolha interessante, se explorada de modo mais ousado.
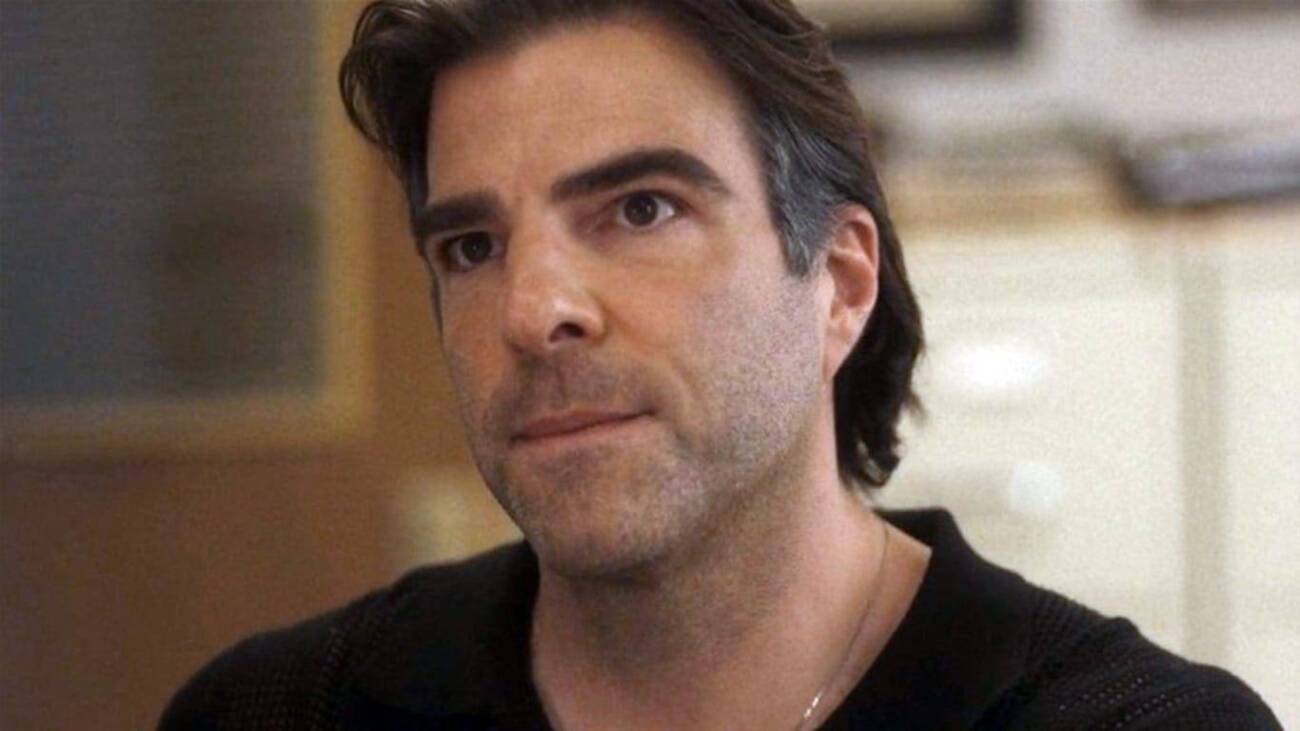
Charlie Carver também ganha seu tão merecido protagonismo como Adam Carpenter, um jovem gay que se alia a Gino depois do desaparecimento do melhor amigo e que sabe que algo de tenebroso está chegando por aí – e que estrela algumas das cenas mais bem-feitas até então. Patti LuPone, encarnando a cantora Kathy Pizzaz, é um deleite nos poucos momentos em que aparece – o que não é nenhuma surpresa, considerando sua carreira esplendorosa tanto nos palcos quanto nas telas. Mas a química que os atores e atrizes exalam não nos faz ignorar a falta de originalidade e de entusiasmo para o que poderia ser uma das melhores temporadas de ‘American Horror Story’.
O novo ciclo começa com o pé esquerdo, mas, com sorte, Murphy e Falchuk estão guardando cartas na manga para as próximas semanas. Só esperamos que não seja tarde demais até alguma coisa boa, de fato, acontecer.




